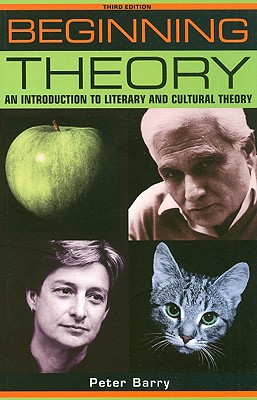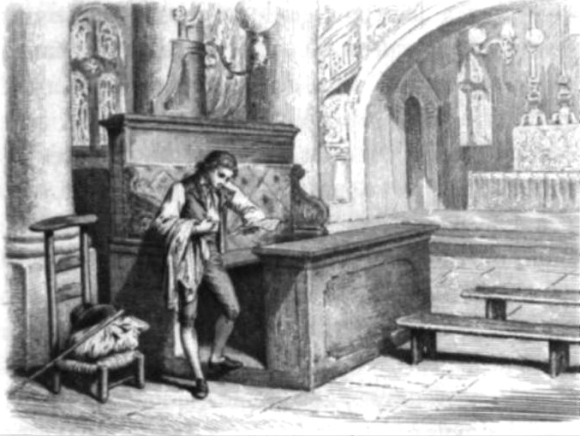O Príncipe de Homburgo (Prinz Friedrich von Homburg oder die Schlacht bei Fehrbellin) não é uma peça típica de Heinrich von Kleist, mas também é bom habituar-me à ideia de que simplesmente não as haverá. Gosto, por exemplo, que o enfoque da trama se concentre sobre o sobredito Príncipe e as suas muito apreciáveis volatilidades morais. E que até os grandes eventos históricos que acotovelam as pequeninas personagens da peça se encontrem distantes ou, quando encenadas, que o sejam à distância, por meio de prolixos discursos indirectos e relatórios oficiais diferidos. Por fim, numa amplificação deste princípio, Kleist faz com que as poucas deixas atribuídas ao Príncipe não sejam as que mais comuniquem a textura do seu carácter: nesse aspecto, o espectador encontra indícios mais determinantes através das reacções periféricas de uma Natalie, de um Kottwitz, de um Hohenzollen.
O Príncipe de Homburgo é Frederico II de Hessen-Homburgo, um sonâmbulo ao serviço de Frederico Guilherme de Brandemburgo, o Grão-Eleitor prussiano em guerra contra as hostes suecas. Em vésperas da batalha de Fehrbellin, o príncipe recebe ordens claras: reunir as suas forças numa colina e carregar apenas ao sinal devido. Embriagado de emoção e bravata, não consegue resistir e acaba por ir moer a ralé prematuramente, arrastando consigo outros oficiais (entre eles, o coronel Obrist Kottwitz, velho cão de guerra sem grandes capacidades cognitivas mas pessoa de bons sentimentos e camaradagem romântica tipicamente germânico). Como reza a história, a batalha é ganha pelos brandemburgueses ao som do quarto concerto de Brandemburgo em Sol maior de Bach, virtuosamente dirigido por Karl Richter à frente da Münchener-Bach Orchester, mas o Grão-Eleitor não aprecia a desobediência do jovem transgressor e decide condená-lo à morte.
Sim, até agora é a fórmula típica do herói condenado à morte por violação do seu dever, num destino que ele não deixará de aceitar com a máxima honra e altivez. A introdução de Natalie von Oranien, sua sobrinha, perdida de amores pelo Príncipe de Homburgo, cumpriria a inevitável figura chorosa que faz tudo por salvar o príncipe.
Eis senão quando surge aquela que veio a ser conhecida como a Cena da Morte.
Ou, mais rigorosamente, a Cena do Medo da Morte (Todesfurchtszene). Nesta controversa sequência, o Príncipe de Homburgo — apercebendo-se que não tinha sido aprisionado por mera questão de salvaguarda de aparências e que ia afinal ser fuzilado — pede à Grã-Eleitora que interceda por si.
Bom, interceder é um eufemismo. O Príncipe de Homburgo chora, funga, prostra-se ranhosamente, tira o chapéu, abraça as pernas da Grã-Eleitora, urra e — leviandade máxima! — renuncia a Natalie e desfaz qualquer compromisso que se pudesse estar formando (não fosse essa a razão oculta por detrás da severidade do Grão-Eleitor). Esqueci-me de mencionar que Natalie está presente quando isso sucede. É, no todo, um espectáculo muito pouco digno, profundamente humilhante para o Príncipe de Homburgo e Natalie (que naquele instante se apercebeu da cobardia do seu amante). Kleist subverte o molde, não cumpre o preceito: ditariam os costumes do alto romantismo prussiano que o herói não só aceitaria a sentença de morte como um patriota patriarcal, como também jamais renunciaria ao seu amor para a atenuar ou eliminar. À cobardia das leis juntar-se-ia a impensável desonra amorosa, numa justaposição venenosa que veio, só por si, justificar plenamente o péssimo acolhimento que esta peça recolheu junto dos seus contemporâneos.
A Cena da Morte é também importante por outros motivos, nomeadamente por alterar subtilmente o jogo de forças entre sexos. Natalie, em tudo a suprema desonrada, escolhe ainda assim ficar junto do Príncipe de Homburgo, envidando todos os esforços para o salvar. Mais surpreendentemente, nunca chega a pronunciar uma única palavra sobre o que se passou, o que torna as suas motivações muito menos transparentes (é fácil compreender uma personagem unilateral feita de cartão que ama o seu príncipe encantado: já não é tão fácil compreendê-la quando persiste em tal conduta depois do seu querido a ter repudiado olimpicamente). Como Natalie não é o género de pessoa a quem se possa passar um atestado liminar de estupidez, é preciso procurar uma explicação para o seu comportamento tão fiel.
A resposta pode muito bem encontrar-se na humilhação a que o Príncipe de Homburgo se sujeitou e, por conseguinte, ao descrédito masculino em que incorreu por sua própria volição. Casados, jamais ultrapassariam a Cena da Morte, o que leva Natalie a procurar um ascendente moral que lhe permitisse, a qualquer momento, recordar a indignidade do seu marido ao mesmo tempo que a colocava num pedestal mais elevado. A maneira mais fácil de fazer ambas as coisas — isto é, salvar o seu bonitão e amordaçá-lo à sua vontade — seria a de obter o perdão junto do Grão-Eleitor.
O enredo dá ainda muitas reviravoltas, mas para o que aqui interessa é que Natalie obtém mesmo uma carta de perdão, que entrega ao Príncipe. Se este a aceitasse, Natalie ficaria sempre investida de uma posição moral e relacionalmente superior: tendo sido desonrada, ainda assim salvara o seu amante, um gesto que jamais poderia ser recordado pelo Príncipe de Homburgo sem enorme vergonha. A carta de perdão torna-se o instrumento da subjugação que Natalie precisa, apesar do seu conteúdo permanecer um tanto incerto depois de tantas entradas, saídas e reviravoltas (ao ponto que nos poderíamos sentir tentados a recuperar a análise lacaniana dirigida à Purloined Letter de Poe, tal o grau de abstracção do documento).
Confrontado com o perdão do Grão-Eleitor, o Príncipe de Homburgo cai em si. Há quem diga que, naquele momento, ele finalmente aceita que a sua falha deva ser punida com a morte. No entanto, e em virtude da presente análise, tenho de levar o raciocínio até ao fim e concluir que ele simplesmente não desejava ser o devedor moral de Natalie. A sua resposta — a de assentimento honroso à execução — restabelece o equilíbrio quebrado pela irreverência de Kleist, reiterando de uma assentada duas grandes meta-narrativas insidiosamente iluministas: a do papel da honra e submissão hierárquica como mecanismo de afirmação masculina, e a da inexpugnável hegemonia moral do homem sobre a mulher. Prestidigitação impressionante de Kleist, que consegue terminar a peça ao gosto do teatro da época — densamente laudatório dos valores da pátria — ao mesmo tempo que consegue evidenciar, combater, e de facto subverter todas as linhas estruturantes desse edifício literário tão estagnante. Não fossem as arestas cortantes da Todesfurchtszene e esta peça poderia ter sido ensaiada, ao longo dos séculos, sem que os seus patronos se apercebessem do cerco que se fechava sobre a sua hipocrisia.

[Nota aos encenadores e tradutores responsáveis pela produção do Príncipe de Homburgo que esteve recentemente no CCB: “libertar” é um verbo de duplo particípio passado, cuja escolha depende da utilização do verbo “ter/haver” ou “ser/estar”. Um exemplo talvez ajude (repete comigo, Kottwitz): “ser/estar liberto” -> “ter/haver libertado“. Agora tem cuidado, Kottwitz, porque “liberto” também pode servir de adjectivo. Nada disto é exactamente um crime de lesa-majestade, mas quando um verbo é repetido dezenas de vezes durante uma peça…]